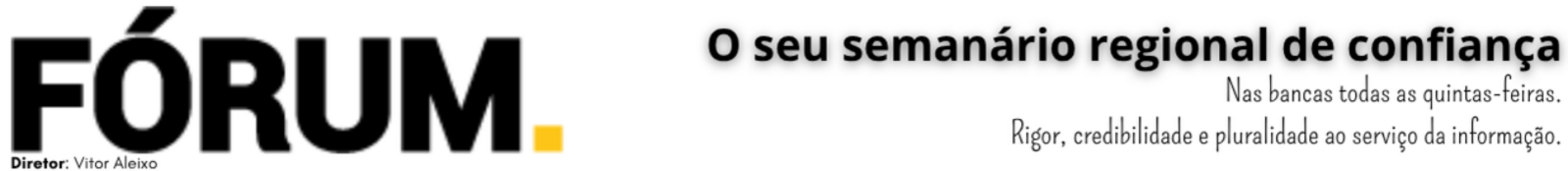No carrossel das eleições em Portugal, seguem-se as Presidenciais. Acedendo ao Portal da Candidatura temos, nada mais, nada menos, que quarenta e cinco cidadãos que se prontificaram a assumir o papel de Chefe de Estado. Desde o Almirante ao Contra-almirante, do gigante ao anão, ou simplesmente de perfeitos desconhecidos, temos uma panóplia de portugueses disponíveis para serem o placard do país. Muitos não irão conseguir as assinaturas necessárias; outros conseguirão, mas realisticamente não têm hipótese de chegar aos dez por cento, muito menos de forçar a segunda volta; um seleto leque poderá, ainda assim, almejar o grande objetivo — sentar o rabiosque no trono (metafórico) de Primeiro entre Pares. Além destes quarenta e cinco ilustres, o nosso sistema político conta, atualmente, com vinte e três partidos políticos legais. Vinte e três partidos com, aparentemente, programas, ideais, ideias e pessoas diferentes. É muita gente. Mas porque tanta gente, quer na Presidência da República, quer a nível partidário?
A resposta a esta pergunta tem vertentes teóricas e práticas. A vertente de mais fácil apreensão é a prática: fazer parte da vida política permite conexão com outras pessoas, por vezes em posição de decisão, e, mais que isso, permite o conhecimento mútuo, o que pode desenvolver uma profissão, criar uma amizade e facilitar o dinamismo pessoal e comunitário. Além disso, nem que seja nas autarquias, permite a pessoas de ação chegarem a lugares de decisão. Não que seja um bar aberto — muitos ficam surpresos com o pântano legal, administrativo e disciplinar/penal que encontram. Esta complexificação tem uma razão e já lá chegarei.
A vertente teórica tem uma explicação mais longa, mas, de certo modo, aparente, pois está conectada com a natureza humana de egoísmo e sede de poder. Imaginemos que cada partido é uma aldeia fechada. Cada aldeia poderá ser maior ou menor e governada de acordo com os seus próprios princípios. Na criação de uma mega-aldeia, uma liga de todas as aldeias, teriam de ser definidos os traços em comum entre todas (ou pelo menos entre a maioria). Essa definição constituiria, isto é, formalizaria esta liga. Assim, seria criado um órgão ou uma série deles para governo, fiscalizar e executar medidas relativas à liga e, por consequência, a cada aldeia. Este sistema seria, à primeira vista, normal e funcionaria de acordo com as regras de uma votação. Mas não é descabido pensar em limites, regras de matriz formal, exceções e bloqueios criados pelo órgão de governo, dentro do limite formalizado no início da liga, para que os membros desses órgãos fossem sistematicamente os mesmos, não necessariamente em pessoa, mas em caminhos e ideias a seguir. Pior: ainda que respeitados os direitos de representação e votação das aldeias mais remotas, materialmente estas não teriam qualquer posição na tomada de decisão, uma vez que os seus representantes serviriam os interesses das maiores aldeias da liga, de modo a poderem ser eleitos para o órgão de governo, isto é, apenas a sua naturalidade, origem e província seriam critério para representação dessa aldeia — isso se houvesse obrigatoriedade de escolha de membros dessa aldeia, uma vez que nada obstaria a que as aldeias maiores escolhessem arbitrariamente quem quereriam para esses lugares. A criação de novas aldeias, alimenta assim um sonho, mas é o sonho errado: em vez do sonho ser a representação dos aldeões, o sonho é a substituição da maior da aldeia. A tomada do poder tem, não por definição, mas por experiência, a tentativa a todo o custo de manutenção do mesmo.
É assim que se justifica o súbito interesse na política — a criação de uma mentalidade de conflito e de substituição. É esquecido que o jogo é viciado ab initio. A mudança de jogo ou, pelo menos, a implementação de um novo tabuleiro para jogar, seria tão complexa e impossível com base nos comentários informados que ouvimos — esquecemo-nos apenas do óbvio: se cada um pudesse viveria na sua própria tecnocracia. Hoje e para já, vivemos na dos políticos de carreira e dos economistas. Amanhã, quem sabe.